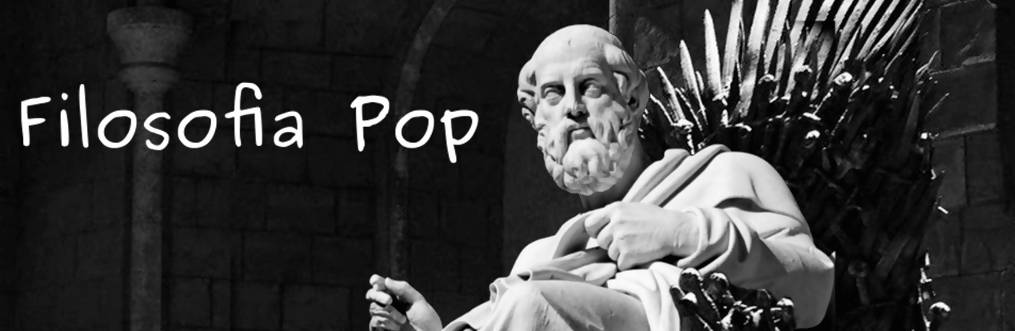Na era da cibernética, na era da comunicação (e com Elon Musk no timão), Trump desfaz-se da Voz da América – maior meio de soft power que, juntamente com a France-Presse e a Reuters, era o maior fazedor da opinião no mundo.
Ensaio de Severino Ngoenha, Luca Bussotti, Giveraz Amaral, Samuel Ngale e Augusto Hunguana

Há muitas e recorrentes perguntas em muitos lugares do mundo (lugares de pensamento, lugares de onde o mundo é pensado), de onde as estratégias do mundo são concebidas e/ou avaliadas, de onde as filosofias que conduzem – aquilo que se pode chamar multilateralismo, unilateralismo, globalização das economias – são concebidas; as relações Norte-Sul, as alianças entre grupos/partidos/países são forjadas. Em todos esses lugares, a mesma questão sacode as mentes: em que era/mundo entramos, com a (re)subida de Trump à caput mundi?
O que toda a gente sabia era que as relações com a Europa iriam ser complicadas em torno das questões da contribuição desta na aliança atlântica e do balanço comercial entre a Europa e os Estados Unidos. Sabíamos que ele queria acabar com a guerra na Ucrânia; sabíamos que ele tinha um problema com o nuclear iraniano; sabíamos que ele é pró-sionismo (Israel, em detrimento da Palestina). Essas coisas nós sabíamos.
Mas aquilo que ele fez nos primeiros meses do seu segundo mandato, intra e extra murus, surpreendeu a todos e foi de uma radicalidade sem precedentes, que levou muitos peritos e especialistas a postularem que – depois do pós-comunismo, pós-história, pós-política, pós-globalização – entramos numa nova era que nós ousamos apelidar de iliberalismo, recorrendo ao pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben.
O liberalismo político – matriz principal dos Estados modernos – tinha postulado valores inquestionáveis, que sobreviveram às vagas da globalização e do neoliberalismo/ultraliberalismo: respeito aos direitos, separação entre a esfera política e o domínio econômico, separação de poderes, Estado de Direito (…). Pôr em causa esses postulados não é questionar simplesmente Trump, não é somente questionar a relação entre Trump e a Europa, é questionar a maneira como o viver em comum na sociedade – mundo – o que chamamos de direito internacional – vai ser doravante organizado.
Trump, The Second, surpreendeu com a inauguração da política pós-diplomática – depois do discurso do vice-presidente J. D. Vance aos líderes europeus na Inglaterra, a maneira como tratou o eunuco Zelensky –, com a desvergonhada forma com que reivindica as matérias-primas da Ucrânia, com a provincialização da Europa (Dipesh Chakrabarty), com a eliminação/desvelo dos sistemas pré-textuais do (falso) filantropismo (USAID), com a reedição das coboiadas do século XIX (anexação do Texas e do Havaí, conquista da Califórnia, compra da Luisiana e da Gadsden…) – desta vez com o Canadá, o Canal do Panamá e a Groenlândia na mira.
Surpreendeu pelas medidas racialistas (supremacistas) com que condenou a política de redistribuição de terras na Pátria do Arco-Íris e pela maneira como declarou o embaixador Ebrahim Rasool persona non grata e, sobretudo, pelo cheque em branco que passou a Benjamin Netanyahu para realizar o velho sonho sionista: expulsar definitivamente todos os palestinos da Palestina.
As ameaças apenas veladas ao Hamas e ao Irã, os ataques aos hutus no Mar Vermelho revelam um Trump segundo, diferente do Trump primeiro, com ares de querer rivalizar com os democratas, Barack Obama e Joe Biden, nas coboiadas militares do Tio Sam.
Na era da cibernética, na era da comunicação (e com Elon Musk no timão), Trump desfaz-se da Voz da América – maior meio de soft power que, juntamente com a France-Presse e a Reuters, era o maior fazedor da opinião no mundo (…). A Voz da América não se limitava a dar informações (algumas forjadas, como pintou o extraordinário romance de Irving Wallace), mas fazia-nos pensar o mundo, e até a nós próprios, a partir do ponto de vista americano – exemplo eloquente do que Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, chamaram de poder de alienação dos meios de comunicação.
Quase duzentos anos antes deles, um outro filósofo alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tinha definido a filosofia como a apreensão do próprio tempo através de conceitos, encarcerando assim a filosofia numa relação crítica com a sua temporalidade e fazendo do filósofo amigo do seu tempo. Dizer tempo não significa correr atrás dos Kronos efêmeros do cotidiano, mas apreender os fatos e as ações humanas em função dos seus significados profundos, do seu espírito e do telos (até kairós), que nos desvelam fatos e ações singulares.
Ao lado da ideia de que os filósofos têm que ser amigos do seu tempo, Ortega y Gasset acrescentou que nós olhamos para o mundo e para a história a partir das nossas circunstâncias e particularidades. Essa tese teve respaldo com o surgimento de muitas epistemologias no Sul (Hountondji, Quijano, Mignolo), que sugerem o abandono da colonialidade das nossas leituras do mundo, em favor de uma hermenêutica e de um olhar para a sociedade-mundo através das nossas linguagens e a partir dos nossos ângulos particulares de observação: culturas, geografias, economias, políticas, sociedades…
Se lermos os tempos perifrásticos com que o trumpismo nos confronta a partir das nossas circunstâncias e particularidades sócio-históricas, talvez o nosso tempo não seja (para nós) tão/mais cinzento como pode parecer à primeira vista; mais aterrorizante que outros momentos e/ou períodos da história.
Nós engendramos o caminho das nossas independências na década de 1960, na esteira da Declaração da Carta dos Direitos Humanos de 1948, que compreendia (entre outras) o direito à autodeterminação dos povos. Mas essa autodeterminação nunca nos foi reconhecida, nunca nos foi permitida; como tínhamos sido objetos na escravatura, como tinham dividido o continente com o colonialismo, mesmo depois das nossas independências, continuamos a ser espaços de exercício do poder de colonizadores que nunca se emanciparam do espírito de posse e direito sobre nós e sobre as nossas terras – onde intervinham, faziam golpes de Estado, compunham e recompunham poderes e presidentes…
Por isso, o que está a acontecer no Ocidente – visto do nosso ângulo de observação – não sai, agambenianamente, da norma. O fato de Trump querer ocupar a Groenlândia ou o Canadá, para o Ocidente, parece uma grande aberração, mas o que é que isso tem de anormal, visto a partir do nosso ponto de observação e da nossa história? Nós fomos sempre ocupados e reocupados, divididos e redivididos de acordo com a vontade e os interesses dos mais fortes.
Não foi só o colonialismo do século XIX, mas mesmo depois das nossas independências as intervenções do Ocidente, a maneira como metiam soldados e ocupavam a terra – basta ver o referendo que manteve Mayotte como território francês, as vicissitudes de Diego Garcia nas Ilhas Maurício, para não falar da invasão da Líbia pelos europeus, contra a União Africana, que se propunha encontrar uma solução política onde aos ocidentais interessava a Ius ad Bellum. Talvez o iliberalismo de Trump consista na aplicação, no Ocidente, das ações que até então eram reservadas ao resto do mundo (…).
A Ius ad Bellum (subordinada à Ius Inventionis), escrita pelo punho de Cristóvão Colombo e ratificada pelos doutos de Salamanca – Vitória, Soares, Grotius – criou uma duplicidade ética no direito internacional; uma moral que determinou um sempre maior civismo e democratização no interior do Ocidente, e uma atitude sempre mais selvagem na relação deste com toda e qualquer alteridade antropológica (Luigi Ferrajoli). A novidade de Trump é que a brutalidade selvagem que rege as relações do Ocidente com o resto do mundo atravessou as margens e passou a ser aplicada também no Ocidente.
A brutalidade selvagem, que sempre caracterizou a relação do Ocidente com outras partes do mundo, é a selvajaria que hoje o iliberalismo acaba retornando para o próprio Ocidente; já que o que conta é a lei da força, os EUA podem impor a sua força a todos, inclusive à província europeia, que se acreditava aliada e não subalterna…
Quid de nós, africanos? Trump sofisticou a sua linguagem sobre nós, mas a essência permanece a mesma. Desta vez, não nos chamou shithole countries, mas interrogou a nossa humanidade:
“Se depois de 50 anos de independência você não construiu a infraestrutura necessária para o seu povo, você é humano?
Se você se senta sobre ouro, diamantes, petróleo, urânio, ferro, cobre, prata, magnésio, óleo bruto, gás, enquanto seu povo morre de fome, sem saúde, sem educação e sem nada para viver, você se sente humano?
Se você permanece no poder e compra armas no exterior para matar seus próprios cidadãos, você é humano?
Se você despreza e ataca seus próprios cidadãos como se fossem nada, quem os respeitará?
Se você é um ladrão do seu próprio país, roubando todos os recursos destinados ao desenvolvimento da sua nação, enquanto a maioria dos seus irmãos vive na miséria, morre de fome, enfrenta uma educação de péssima qualidade, você é humano?
Se você usa o dinheiro destinado ao desenvolvimento do seu país para fins pessoais enquanto o seu povo sofre, assim você se sente humano?
Se você prefere ter muitas mulheres e muitos filhos enquanto não cuida das necessidades básicas do seu povo, você é humano?
Se o seu único projeto social é permanecer no poder até a morte, você é humano?
Se você deixa os cuidados do seu país abandonados enquanto o seu hospital pessoal está no exterior, para onde você vai quando está doente, enquanto o sistema de saúde da sua nação é uma vergonha, você é humano?
E concluiu sua fala na conferência sobre a África dizendo:
“Até que os líderes africanos comecem a pensar menos em si mesmos e mais no bem-estar do seu povo, vocês não são humanos. Porque quem determina se vocês são humanos ou não são os seus líderes. Se eles não agem como humanos, vocês também não são humanos. Vocês, africanos, são animais selvagens, não são humanos.”
Muitas das coisas que ele diz deveriam nos ofender, sobretudo porque são verdadeiras. Nossa reação deveria ser demonstrar a nós próprios e ao mundo a nossa humanidade – e não choramingar pelos dólares perdidos da USAID ou apelar a um colonialismo voluntário (La Boétie), que é ao que o presidente Félix Tshisekedi apela, propondo a exploração das riquezas naturais do Congo aos Estados Unidos em troca de garantias de segurança.
Não vamos desmentir Trump escrevendo tratados etnofilosóficos (Eboussi Boulaga) para demonstrar que somos homens, fazendo marchas de denúncia ao racismo e/ou ao supremacismo. Não dar razão a Trump e ao trumpismo seria transfigurar o fim do miserabilismo da USAID em oportunidade para nos assumirmos como continente independente, mostrando capacidade de responder aos nossos problemas com determinação e responsabilidade; seria apreendermos o fim da Voz da América como oportunidade de substituí-la, enfim, com a nossa voz, a voz da África.
Essa voz já começou a ecoar no Sahel, onde Abdourahamane Tiani, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta vociferam forte, na busca pela independência, de todas as formas de colonialismo. O filósofo afro-americano Alain Locke dizia que o coração do mundo negro começou a bater em Harlem. Hoje, o coração negro pulsa forte no Sahel…
O espírito do Sahel é a ideia das liberdades e das independências da África (Nkrumah), que tem de se libertar, mordicus, de todas as outras formas de colonialismo (Sankara). É a ideia de que a África tem de cuidar dos seus recursos e transformá-los internamente (Mondlane), que tem que colocar mais espírito de trabalho no interior das populações (Samora Machel), que tem de usar os recursos para o seu desenvolvimento, que tem de ter uma economia afrocentrada (Samir Amin), que temos de priorizar as trocas entre nós (Du Bois), que temos de conseguir produzir o suficiente para nos alimentarmos com o que produzimos (Filomeno Lopes).
Este é o espírito que temos de adotar se queremos ser, de fato, países independentes e livres. É em direção a essa luta que devemos seguir, para utilizar os nossos recursos, as potencialidades das nossas comunidades e caminhar para frente, segundo nossas próprias determinações.
Como diz o filósofo Filomeno Lopes, “não é com a enxada dos gregos que podemos cultivar os nossos campos”. Por isso, a filosofia – e o pensamento em geral – tem que estar à altura do desafio do nosso tempo, produzindo as armas da teoria (Cabral), a partir de nós; armas que nos capacitem para os combates que temos pela frente…
ensaio de Severino Ngoenha, Luca Bussotti, Giveraz Amaral, Samuel Ngale e Augusto Hunguana.