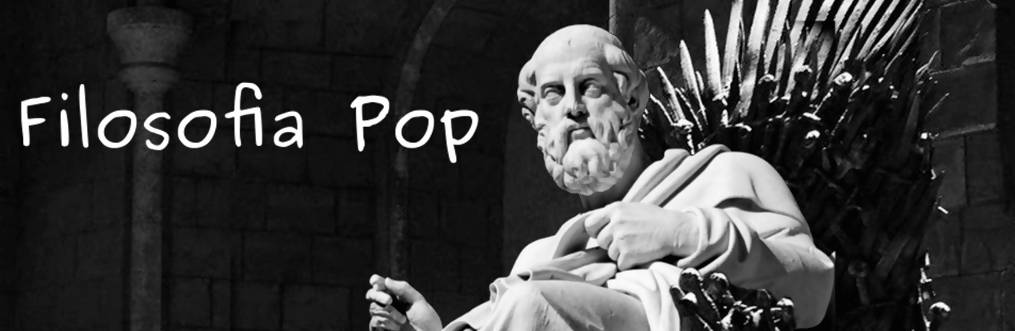O hip-hop faz parte de uma longa história da música negra, em que as canções, a dança e a palavra são utilizadas como caminhos de resistência e denúncia em relação a opressão vivida pela comunidade negra. No entanto, diferentemente de gêneros anteriores como o samba, o jazz ou o blues, a denúncia no hip-hop inclui também o vazio da promessa utópica em alguma entidade transcendente (comunidade, familiares ou Deus) que pudesse servir de fonte de esperança. Deste modo, o hip-hop escancara a crise de valores, o niilismo contemporâneo (diagnóstico feito por Cornel West).
Numa sociedade dominada pelo consumo, toda as formas de cultura correm o risco de se tornarem meros produtos, sem sentido ético ou vinculação com a comunidade. Esse tipo de ameaça é algo que se confunde com a própria história do hip-hop; quando o ritmo, estilo, dança que surgiram como parte da forma de vida e resistência de uma comunidade, foi gravado por pessoas de fora daquele meio e transformado em mais um produto para consumo. Ao seguir este mesmo caminho, as performances artísticas dos rappers, que eram parte de um determinado contexto, têm suas referências para a comunidade questionadas ou esquecidas. O sentido de solidariedade e resistência dá lugar para a competição e a ostentação (sexista, violenta, consumista etc.). Como é comum em relação a juventude de classe média, a possibilidade de ter acesso a marcas e produtos torna-se o caminho privilegiado para a autocriação. Muitas vezes os que conseguem transcender as limitações de suas comunidades, passam a ter como único tema cantar o próprio sucesso (de um modo que não separa a capacidade de identificação entre dinheiro, sexo e objetificação).

Professor Mutomobo Nkulu-N’sengha
É interessante repensar o que está em jogo nesta situação a partir daquilo que a ética africana tradicional concebe como caminho de autocriação. O estudioso da religiosidade africana Mutombo Nkulu-N’Sengha descreve, a partir da língua Luba, uma relação dinâmica entre Muntu, Kintu e Bumuntu na definição do que é um ser humano. Muntu seria um termo genérico que na descrição deste autor abriga todos os seres humanos. Já Bumuntu ressalta a “essência” de um ser humano “autêntico” (termo que na África do Sul aparece como Ubuntu; e que mantem a mesma concepção nas palavras Eniyan ou Ywapele em Ioruba). Essa “essência humana” não é algo dado, mas uma autoconstrução em relação a qual cada um é responsável e se relaciona com o respeito e a relação com os outros. Neste sentido, quando se pergunta o que é um ser humano, a resposta africana seria Bumuntu, designando que “uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas”, ou noutra expressão, “eu sou porque nós somos”. Estas descrições mostram a necessidade de identificação e cuidado com o sentimento dos outros, assim como cooperação e reconhecimento da dignidade de cada ser humano.
Alguém que não age de modo adequado perde ou falha em sua humanidade e se torna um Kintu, termo que designa objetos inanimados, mas também o mal caráter ou comportamento. Entre Kintu e Muntu haveria uma oscilação, de tal modo que a ameaça de ser considerado alguém que perdeu a humanidade tornando-se mero objeto é algo que exige cuidado – ético e estético – constante em relação ao comportamento: um homem belo/bom é como um peixe dentro d’água, já o que não tem caráter é como um boneco de madeira (NKULU-N’SENGHA, p. 81).
O congolês Nkulu-N’Sengha constrói um quadro para mostrar como na língua Luba essa concepção cosmológica é ilustrada pelo uso do prefixo “Ki” que remete a Kintu, demonstrando a degeneração do comportamento humano, alguém que se porta como objeto inanimado, de modo não solidário, egoísta, não-humano: “tata” é bom pai e “ki-tata”, pai ruim; mama, “boa mãe” e “ki-mana”, mãe ruim; “mulume” o “bom marido” e “ki-lume” o marido abusivo. Este tipo de tensão e busca pela autoconstrução de um comportamento ético é marca da cultura africana tradicional.
As duas categorias de ser segundo a cosmologia Luba (NKULU-N’SENGHA, 2009, p.144)
MU-NTU Categoria de boa moral e inteligência
KI-NTU Categoria de má moral e estupidez
MUNTU (pessoa responsável, boa)
KI-NTU (alguém que não merece respeito)
TATA (bom pai) KI-TATA (pai ruim)
MAMA (boa mãe) KI-MAMA (má mãe)
MULUME (bom marido) KI-LUME (marido abusivo)
MULOPWE (bom rei) KI-LOPWE (tirano, rei estúpido)
Poderíamos novamente tentar retomar a descrição da cosmologia Luba a partir da posição polêmica do filósofo norte-americano Cornel West quanto ao uso da palavra “nigger” dentro do hip-hop. O termo “nigger” é extremamente pejorativo, utilizado para destacar a objetificação da população negra no contexto da escravidão, termo retomado como insulto racista, atribuindo a condição de “não-pensante”. O termo, por conta de seu sentido histórico depreciativo, foi banido do vocabulário cotidiano nos EUA como uma palavra proibida, algumas vezes apresentada na imprensa como “n-word”. No entanto, muitas vezes a comunidade hip-hop utiliza para si mesma essa palavra, adaptada como “nigga”. Cornel West preferia que a história de ódio e desrespeito deste termo fosse lembrada e que os rappers deixassem de utilizar essa palavra. Em verdade, as canções que utilizam o termo costumam ser censuradas nas rádios e tv’s dos EUA (o que pode ter um valor promocional interessante).
Em verdade, para Cornel West, muitos negros de classe média passam a não mais se identificar com as populações negras das periferias pobres, entrando num processo que, de forma provocativa, chama de “reniggerization”: esquecem sua identidade racial ou qualquer identificação com aqueles que sofrem diante das estruturas racistas de opressão. Para o filósofo norte-americano, o presidente Barack Obama seria exemplo dessa “reniggerization”: ele teria se tornado um boneco na mão dos interesses de Wall Street, sem questionar o encarceramento em massas, as desigualdades crescentes, a violência policial etc. Obama que foi eleito como representante da esperança de mudanças democráticas que moveu o “fogo profético negro”, herança da luta de W. E. B.Du Bois, Malcoln X, Martin Luther King, Ida B. Wells, Angela Davis, tornou-se o presidente dos drones, de um Império que lançou mais de 26 mil bombas por ano .
A questão que a tradição bantu coloca para o hip-hop é a de que, ao assumir o termo “nigga” não se faz o mesmo com a condição de “Kintu”, colocando-se como produto dentro do jogo e lógica do mercado? A forma como as mulheres são tratadas nas letras de hip-hop não negam muitas vezes a condição de Muntu? A resposta para esta questão não é unívoca, mas num tempo em que somos governados por gangsters, tanto no Brasil como nos EUA, preservar o sentido de comunidade é um desafio que merece cuidado. As perspectivas de ostentação podem nos direcionar para a perca daquilo que nos faz humanos. Não vale a pena aceitar a condição de nigga (ainda que em Paris).
Marcos Carvalho Lopes é filósofo, trabalha como professor na Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), no Campus dos Malês em São Francisco do Conde-Bahia, ministrando a disciplina de filosofia africana no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades.