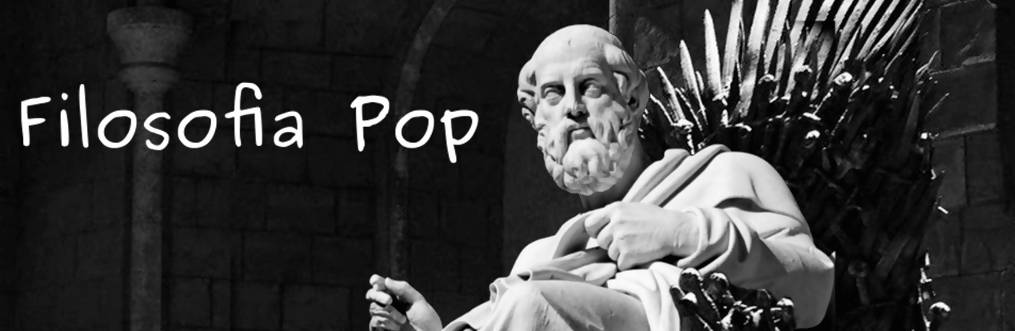A construção de uma consciência literária pan-africana nos países de língua portuguesa
ensaio de Luís Kandjimbo |*

Conservo na minha pequena mediateca o registo de um testemunho existente nos arquivos da Radio France Internacional, através do qual ainda é possível escutar a voz de Alioune Diop (1910-1980), fundador da editora e livraria Présence Africaine, enunciando os nomes das personalidades que se tinham distinguido na organização do I Congresso de Intelectuais e Artistas Negros de 1956, realizado em Paris. São eles Jean Price-Mars (Haiti, 1876-1969), Leopold Senghor (Senegal,1906-2001) Jacques Rabenamanjara (Madagáscar,1913-2005), Aimé Césaire (Martinica,1913-2008), Cheikh Anta Diop (Senegal, 1923-1986), Mário Pinto de Andrade(Angola, 1928-1990) e Mongo Beti (Camarões,1932-2001). O intelectual senegalês, fundador da editora e livraria Présence Africaine, distinguia, sem hesitação, o papel decisivo do pensador e ensaísta angolano.Mas tal referência não é casual. Por essa razão, tem interesse trazer a presente conversa. É uma oportunidade mais para avaliar a contribuição de Mário Pinto de Andrade, em prol da definição do pan-africanismo cultural e literário
Pan-africanismo e literatura nos Cinco
Há cerca de três anos, desenvolvi uma breve reflexão acerca do pan-africanismo literário nos Cinco Países Africanos com Língua Oficial Portuguesa(PALOP). Considerava, tal como se lê no texto da proclamação, que a Liga dos Escritores dos Cinco (LEC), em Julho de 1987, na Ilha de São Tomé, tinha acontecido sob o signo da “história das literaturas nacionais que se afirmaram e partilham uma identidade de luta contra as sequelas do colonialismo e as tentativas de neo-colonialismo, pela consciencialização patriótica, afirmação e valorização da identidade nacional”. E […] “cientes da necessidade de estimular a criação literária nos nossos países, a atenção aos valores e modelos consagrados, o surgimento e a promoção de novos valores assim como de novos estilos, géneros e formas de expressão literária […]”. Lê-se no texto da proclamação.
Com efeito, a LEC representou a manifestação associativa de uma identidade fundada na história, por duas razões: 1) Da participação de intelectuais e escritores na luta de libertação nacional em África; 2) Da importância das literaturas nas relações internacionaispan-africanas entre o continente e as suas diásporas antigas.
Isso pode ser demonstrado através da interpretação do pensamento e do discurso literário das gerações literárias que surgem em Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e SãoTomé e Príncipe, durante as décadas de 40 e 50 do século XX. São manifestações literárias cuja génese remonta aos fins do século XIX. Trata-se de uma tradição pan-africanista de intelectuais originários das então colónias portuguesas que residiam em Portugal.Era a geração de protonacionalistas tal como a qualificou o ensaísta angolano Mário Pinto de Andrade, numa perspectiva analítica, tendo em conta o carácter sistemático do pensamento e da acção em que se erguia a referida tradição pan-africanista de intelectuais das colónias portuguesas em África. Tal perspectiva vem plasmada no seu livro:“Origens do Nacionalismo Africano: Continuidade e Ruptura nos Movimentos Unitários Emergentes da Luta Contra a Dominação Colonial Portuguesa 1911-1961”.
Edward Blyden e a personalidade africana
Em finais do século XIX, Edward Wilmot Blyden (1837-1912), cidadão liberiano afrodescendente, foi um dos primeiros intelectuais negros que formulou o conceito de “personalidade africana”, enquanto expressão do nacionalismo cultural africano, num sentido mais antropológico.Fê-lo pela primeira vez num discurso proferido na cidade de Freetown, em 1893.Ao conceito está subjacente uma perspectiva ecuménica assente na ideia de “raça negra”, aquilo a que alguns estudiosos da vida e obra de Blydendesignam por “ideologia pan-negra”. Identificada a origem da formulação da ideia de pan-africanismo, em letra de forma tem o seu marco na Conferência Pan-Africana, que teve lugar na cidade de Londres e organizada, em 1900, por iniciativa do advogado Henry Sylvester Williams (Trindade e Tobago, 1867-1911). Já na segunda metade do século XX, o conceito de “personalidade africana” era o preferido pelos detractores e oponentes da teoria da negritude de Aimé Césaire e Leopold Senghor.
Do pan-africanismo político ao literário
Para todos os efeitos é daí que parte a ideia de pan-africanismo. Assumindo um pendor mais político, o movimento pan-africanista chegou às colónias portuguesas e à capital do poder colonial. O jornalismo praticado por Africanos, à luz do contexto político republicano dominante, é revelador da pujança com que cultivavam os ideais do pan-africanismo. A eloquência está nos títulos dos jornais africanos: “O Negro”, 1911;“A Voz D’Africa”, 1912-1913 e 1927-1930; “Tribuna D’Africa”, 1913 e 1931-1932; “O Eco D’Africa”, 1914-1915; “O Protesto Indígena”, 1921; “Correio de África”, 1921-1923 e 1924); “A Mocidade Africana”, 1930-1932; “África Magazine”, 1932; “África”, 1931 e 1932-1933. Por outro lado, estão as associações que detinham a propriedade dos jornais: Associação dos Estudantes Negros; Liga Académica Internacional dos Negros; Junta de Defesa dos Direitos de África; Liga Angolana; Partido Nacional Africano; Liga Africana; Movimento Nacionalista Africano.
O pan-africanismo político alcançou elevados níveis de mobilização com as sucessivas realizações dos quatro Congressos Pan-Africanos, (1919, 1921, 1923 e 1927), sob a liderança de W. E. B. Du Bois. Foram importantes os contributos das elites africanas e das comunidades das diásporas africanas das colónias portuguesas. A comprová-lo estão as presenças de seus representantes nos congressos de Paris/Bruxelas, Londres, Londres/Lisboa e Nova York.
Entretanto, as progressivas dinâmicas do pan-africanismo político sofreram profundos abalos com os efeitos da Grande Depressão americana de 1929 e a Segunda Guerra Mundial. Mas, por outro lado, impulsionaram o desenvolvimento do pan-africanismo literário, através da influência que o movimento “Harlem Renaissance” produziu nos meios artísticos e literários africanos, no continente e nas diásporas africanas na Europa, nomeadamente, em Paris e Lisboa.
Pan-africanismo literário
Com a publicação de livros como os de Christel Temple, “Literary Pan-Africanism: History, Contexts, and Criticism” (Pan-africanismo Literário: História, Contextos e Crítica), 2005, e “Transcendence and the Africana Literary Enterprise”, 2018, se vem discutindo, nos círculos académicos dos estudos literários africano-americanos, a história do conceito de “pan-africanismo literário”. Atribui-se mérito ao livro, que já foi premiado, pelo facto de ter dado lugar a uma análise histórica da “complexa relação entre os africanos continentais e os africano-americanos”. De resto, a autora pretendeu explorar a “função académica de gerar novos conhecimentos” e “uma função cultural prática de comunicar uma história partilhada, luta e parentesco espiritual entre africanos e afro-americanos”. Reconhece que, enquanto unidade de análise, o “pan-africanismo literário” é uma categoria de crítica literária centrada em África. Contudo, a glossobalcanização, associada à ideia de barreiras linguísticas intransponíveis, produz efeitos nefastos, quando o contexto histórico com que opera se circunscreve aos universos anglófonos isoladamente, perdendo de vista a possibilidade de explorar a história e as fontes literárias dos Cinco e dos países de língua oficial inglesa.
História do conceito
A historiografia das literaturas africanas, literaturas africano-americanas, literaturas das Caraíbas, literaturas afro-latino-americanas e suas conexões com a ideologia do pan-africanismo inspira alguma prudência, se tivermos em atenção os movimentos através dos quais se manifestam essas literaturas, até à primeira metade do século XX, no Haiti, nos Estados Unidos da América, no Brasil, em Cuba, nas Caraíbas de Língua Inglesa e Língua Francesa. Isto quer dizer que a evolução do pan-africanismo literário como uma ideia crítica não pode ser reduzida ao estudo de um fenómeno dos séculos XX e XXI. É pouco provável que o pan-africanismo literário tenha sido referido pela primeira vez em Maio de 1966, no jornal “Africa Report”.
Não posso deixar de concordar com aqueles que admitem o pressuposto segundo o qual as ideias sobre o pan-africanismo proliferaram por todo o continente e pelas Diásporas, há mais de cinquenta anos, podendo falar-se de um cânone do pan-africanismo literário. Longe da discussão sobre o momento genético da formulação do conceito, conclui-se que os referentes para o qual remete constituem um universo pré-existente. É essa a ideia que Alioune Diop enunciou no mencionado registo fonográfico, ao considerar que o I Congresso de Intelectuais e Artistas Negros de 1956, no contexto que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, representou uma mudança estrutural da agenda, em virtude de se ter conferido dignidade ao pan-africanismo cultural e literário, ao contrário do que até aí tinham sido os privilégios da política.
Negritude pan-africanista
Como vimos, Alioune Diop, fundador da editora, revista e livraria “Présence Africaine”, não poupava elogios a Mário Pinto de Andrade pelo seu compromisso com a causa do pan-africanismo. Quando desembarcou em Paris e foi integrar a equipa de redacção da revista, o ensaísta Angolano acumulava já uma experiência como pan-africanista literário. Tinha escrito textos e realizado iniciativas editoriais, na senda da tradição intelectual africana que prosperou em Lisboa. A leitura de textos ensaísticos assinados por autores africanos dos Cinco, tais como Agostinho Neto (1922-1979), Alda do Espírito Santo (1926-2010), Francisco José Tenreiro (1921-1963) e Mário Pinto de Andrade conduz-nos a uma conclusão. Em primeira instância, são textos que permitem reafirmar a importância desse critério que sustenta o conceito de pan-africanismo literário. Não podem ser inscritos como textos da negritude. Aliás, a este propósito, em 1961, escrevia Francisco José Tenreiro: “O movimento da negritude era pan-africanista, sem dúvidas…mas, de raiz cultural no seu início”. Portanto, o título da colectânea de textos organizada por Pires Laranjeira, “Negritude Africana de Língua Portuguesa”, publicada em 2000, parece ser um equívoco.
Alioune Diop considerava que o pan-africanismo tinha sido um movimento de natureza essencialmente intelectual. Adoptada em África, tornou-se uma doutrina elaborada, obedecendo às aspirações africanas. Por essa razão, no dizer de Diop cada região cultural contava com uma terminologia. Assim, a negritude foi uma invenção que ocorreu nos meios das diásporas africanas em Paris. Dos países anglo-saxónicos, veio a invenção de “personalidade africana”.
Conclusão
Com o impulso resultante da leitura dos livros de Christel Temple, o conceito de pan-africanismo literário vai sendo moeda corrente pelo uso que lhe é reservado no campo dos estudos literários e da crítica literária. Ao nível institucional, desenvolvem-se tendencialmente novas disciplinas, por exemplo, Estética Pan-Africana, Filosofia da Literatura Pan-Africana, História Literária Pan-Africana, Literatura Comparada Pan-Africana, Africologia Literária.
Esta última, na definição de Temple, corresponde a uma “necessidade de teorizar o que acontece no universo dos Estudos Literáros Afro-americanos” como expressão de uma legitimação disciplinar. No contexto da institucionalização desses novos domínios de estudos, Christel Temple identifica como objectivo teórico seminal do pan-africanismo literário a “orientação para estudar as represen- tações de personagens afro-americanas em obras de escritores africanos e medir o seu interesse, curiosidade e criatividade pan-africana como pós-globais”. É evidente que semelhante focagem é redutora, devido à ausência de uma largura de horizontes, fundada em abordagens cruzadas transnacionais, verdadeiramente pan-africanas. O que se revela interessante explorar são as identidades partilhadas numa perspectiva de longa duração, por um lado, no âmbito intra-continental, e, por outro lado, entre o continente e suas diásporas. Neste sentido, o pan-africanismo literário é um conceito operatório para crítica literária que encontra fundamentos históricos legitimadores nos Cinco Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
*Ph.D. em Estudos de Literatura; M.Phil, em Filosofia Geral. Publicado oroginalmente em domingo, 13 de outubro de 2024 no Jornal de Angola.