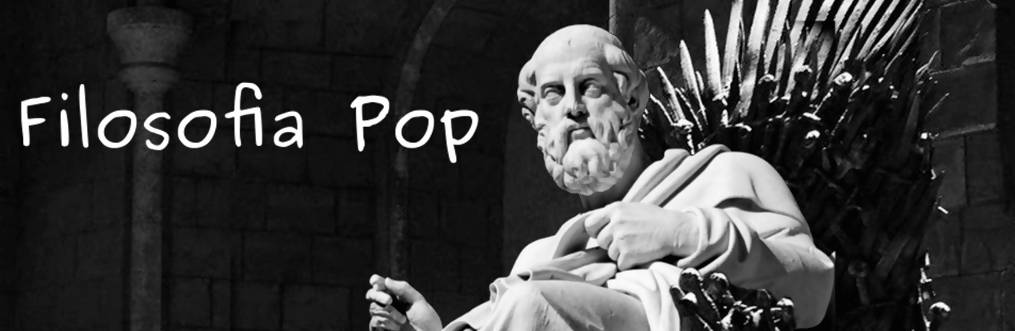Novas correntes de pensamento tornam-se filosóficas apesar — e por causa — de seu caráter antifilosófico
ensaio de Gonçalo Armijos Palácios*

A leitura de três filósofos contemporâneos foi decisiva na minha formação filosófica: Karl Popper (1902-1994), Paul Feyerabend (1924-1994) e Richard Rorty (n. 1931).
Com Popper houve uma relação dupla. Li A miséria do historicismo, obra que provocou em mim um profundo mal-estar. Devo tê-la lido em 1974 ou 75. Pareceu-me um livro extremamente tendencioso e decidi mostrá-lo na minha monografia de graduação, em 1976, na qual fiz também severas críticas a outro filósofo vivo e, naquela época, muito influente na América Latina, Louis Althusser. Alguns anos depois li, de Popper, Conjecturas e refutações. Apesar das profundas diferenças teóricas que ainda tinha com o autor, achei o texto magnífico — impressão que guardo até hoje.
Posteriormente, e num momento importante do meu desenvolvimento intelectual, chegou às minhas mãos o texto de um crítico de Popper, o também de origem austríaca Paul Feyerabend. Era Contra o método, marcante no meu crescimento filosófico. Popper confirmara e dera novas bases para minha ideia de que filosofar é resolver problemas, não meramente comentar textos alheios. De Feyerabend aprendi que não há métodos privilegiados para ser fazer ciência — ou filosofia, ou arte, ou literatura ou o que for. Essas teses profundamente anticartesianas receberam embasamento inesperado, e muito bem-vindo, na leitura que fizera mais tarde de um outro grande pensador: Charles Sanders Peirce.
É notável como as coisas vão acontecendo e certos episódios importantes, como a leitura deste ou desse filósofo, podem ajudar a moldar o nosso perfil filosófico. O curso dado na Universidade de Indiana pela professora Karen Hanson sobre pragmatismo foi, para mim, decisivo. Tive de ler Peirce, William James e John Dewey. A leitura de Peirce chegou num momento de profunda crise — e descrença — filosófica. (Crise e descrença provocadas pelo logicismo exacerbado das minhas leituras dos filósofos analíticos.) A leitura de Peirce me salvou dos horizontes estreitos do logicismo e senti que, intelectual e filosoficamente, nascia de novo. Assim se estabeleceu a ponte com outro filósofo vivo importante: Richard Rorty. Mas, de novo, apesar de concordar em muitos pontos centrais de sua crítica — ferrenha — da tradição, discordei de suas propostas. Quero refletir, hoje, sobre a atitude de Rorty, fruto de sua leitura crítica da tradição — reflexão que pode ajudar a entendermos melhor a filosofia e os rumos, quase sempre inesperados, que ela toma.
Vejamos como Rorty lê a tradição. Sua leitura não esconde sua formação anglo-saxã influenciada pelos filósofos da tradição analítica. No entanto, o filósofo norte-americano se caracteriza por um autêntico interesse no que se fez e faz em correntes de pensamento distantes da filosofia analítica. É um assíduo leitor não só de ingleses e alemães, mas de franceses e italianos, algo não muito comum na academia estadunidense. Considera — o que não resulta uma surpresa — que Wittgenstein e Dewey estão entre os três maiores filósofos do século XX. Surpreendeu-me, no entanto, ler que Heidegger era o terceiro. Com efeito, é o reconhecimento vindo de um filósofo que se fez numa escola de pensamento completamente afastada da fenomenologia, do existencialismo e do próprio Heidegger.
Rorty opõe-se rotundamente a orientação epistêmica da filosofia contemporânea e, consequentemente, critica aqueles que considera seus precursores: Descartes, Locke e Kant. Critica neles o que a própria filosofia analítica chegou a ser: uma atividade que forneceria os fundamentos à ciência. Esse fundacionalismo é criticado desde o início de A filosofia e o espelho da natureza (publicada originalmente em 1979). Na Introdução da obra, Rorty diz claramente o que se propõe com ela:
(…) minar a confiança do leitor na ‘mente’ como algo sobre o qual se deve ter uma visão ‘filosófica’, no ‘conhecimento’ como algo sobre o qual deveria haver uma ‘teoria’ e que tem ‘fundamentos’, e na ‘filosofia’ como tem sido concebida desde Kant.[1]
A leitura que Rorty faz de três clássicos da filosofia moderna, Descartes, Locke e Kant, não desvirtua o pensamento desses autores por meio da atribuição de afirmações que nunca fizeram ou distorcendo o significado das que propuseram. Não, é uma leitura que parte da compreensão e da análise crítica do que esses filósofos realmente defenderam, propondo-se, depois, teses com as quais o leitor pode ou não concordar.
Assim, ‘essência’, ‘verdade absoluta’, ‘conhecimento transcendente’, ‘separação corpo-mente’ etc. são conceitos que o pensamento de Rorty abandona. Considerados conceitos imprescindíveis durante séculos, não fazem mais parte da posição do filósofo norte-americano que, apesar disso, e até por isso mesmo, termina numa nova proposta filosófica.
Nesta série sobre a leitura entre filósofos propus-me mostrar que sem uma leitura crítica das grandes teorias filosóficas, leitura que propõe no seu lugar novas teorias filosóficas, a própria filosofia não existira. Ela, a filosofia, é esse contínuo digladiar-se de teses e teorias filosóficas que só pode ocorrer quando um filósofo lê, compreende e avalia o que outro filósofo propôs. Essa é a leitura entre filósofos, uma leitura ao mesmo tempo destrutiva e construtiva, o que produz um paradoxo: a filosofia avança no tempo só quando — num sentido importante — as diversas filosofias são criticadas, obliteradas ou substituídas por antifilosofias.
[1] Rorty, R. Philosophy and the mirror of nature. New Jersey : Princeton University Press, 1980. Há tradução brasileira: A filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 7.
| *Gonçalo Armijos Palácios José Gonzalo Armijos Palácios possui graduação e doutorado em Filosofia pela Pontificia Universidad Católica Del Ecuador (1978 e 1982, respectivamente) e doutorado em Filosofia pela Indiana University (1989). Realizaou estudos de pós-doutorado na Indiana University em 1996 e 1997. Desde1992 é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, metafilosofia, filosofia política e ensino de filosofia. Participou do Grupo de Sustentação para a criação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, em 2006, do qual foi seu primeiro coordenador eleito. Foi o fundador do Curso de Pós-Graduação em Filosofia da UFG (1993), da revista Philósophos (1996), do Curso de Graduação em Filosofia da cidade de Goiás da UFG, em 2008, e participou da criação do Campus Cidade de Goiás da UFG em 2009. |
| publicado originalmente na Coluna Ideias do Jornal Opção |