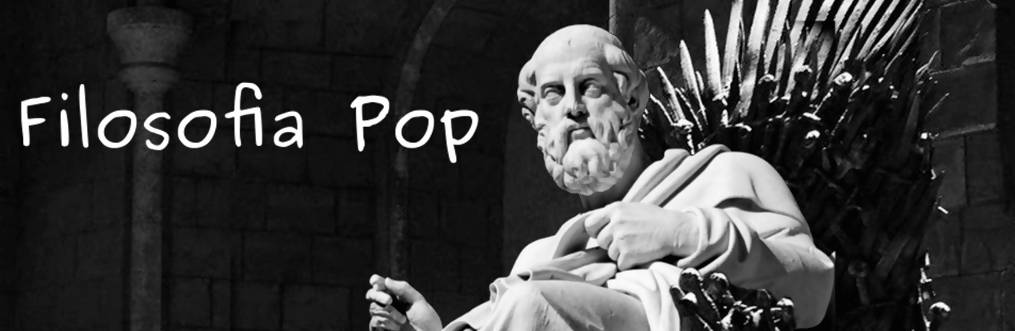Obras filosóficas revolucionárias nunca fecham as saídas nem destroem o já feito, constroem mundos e abrem perspectivas
ensaio de Gonçalo Armijos Palácios

Na filosofia há uma tênue linha entre o que é e o que os filósofos pensam que deve ser, noutras palavras, entre o ser e o dever-ser. Esse ir e vir entre o descritivo e o prescritivo pode facilmente ser visto no Tractatus de Wittgenstein.
Sobre a filosofia, Wittgenstein afirma (na proposição 4.003) que as afirmações dos filósofos resultam do desconhecimento da lógica da linguagem. Essa ignorância da estrutura lógica da linguagem, conclui, determinou que os mais profundos problemas da filosofia não sejam, de modo algum, problemas — o que, para o filósofo vienense, não era nenhuma surpresa. A passagem mostra de forma clara que tipo de leitura fez Wittgenstein da filosofia como um todo: ela não passava de um conjunto de pseudoproposições.
Na parte descritiva, Wittgenstein tem razão: a filosofia sempre foi um conjunto de — o que os filósofos, pelo menos, pensavam ser — proposições. Teses, isto é, sobre os mais variados assuntos — o real, a justiça, o conhecimento, a ética etc. (Se elas eram pseudoproposições, ou pseudoteses, é outra história.) Aqui entra a parte prescritiva: a filosofia não deve, segundo Wittgenstein, consistir em proposições. A filosofia deve procurar a clarificação dos pensamentos (4.112). A redação, no entanto, é ambígua. O que Wittgenstein quer dizer é: a filosofia deve visar, deve ter como objetivo, o esclarecimento lógico dos pensamentos. Obviamente, a filosofia não foi isso, segundo a leitura que o filósofo faz da tradição, pelo qual ela deve ser outra coisa, deve abandonar as proposições e se preocupar com esclarecimentos. Vejamos a paradoxal proposição 4.112 na sua íntegra:
O objetivo da filosofia é a clarificação do pensamento. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente de esclarecimentos. O resultado da filosofia não é um conjunto de ‘proposições filosóficas’, mas o esclarecimento de proposições. Os pensamentos que de alguma maneira são nebulosos e apagados, a filosofia deve fazê-los claros e precisamente delimitados.
Uma das coisas que deve chamar a atenção do leitor é que o Tractatus é de fato um conjunto de proposições. O trecho que acabamos de reproduzir é, ele próprio, isso: um conjunto de proposições que não esclarece outras proposições “nebulosas e apagadas” nem as torna “claras e precisamente delimitadas”. A própria proposição 4.112 não faz o que ela pede. Por outro lado, ela é claramente prescritiva. Assim, fecha-se o círculo: a filosofia foi um conjunto de pseudoproposições e, a partir do Tractatus, deve assumir outro objetivo, esclarecer proposições. Mas, para isso, ela precisa de palavras e, obviamente, de novas proposições.
É verdade que Wittgenstein não afirma no Tractatus que toda a filosofia é um conjunto de pseudoproposições. Isso, não obstante, não diminui a força do ataque, pois, se ele está certo, praticamente tudo aquilo que é dito em filosofia não faz o menor sentido. Na proposição 6.53, o filósofo reitera aquela tese:
O método correto na filosofia deveria propriamente ser este: não dizer outra coisa que o que pode ser dito, portanto, as proposições da ciência natural — portanto algo que nada tem a ver com a filosofia — e, daí, sempre que alguém queira dizer algo metafísico, mostrar-lhe que certos signos da sua proposição não têm nenhum significado. Este método seria insatisfatório para o outro — ele teria a sensação de que não lhe ensinamos filosofia — mas esse seria o único método estritamente correto.
O método filosófico, nesse novo sentido de filosofia dado por Wittgenstein, consiste em ser profundamente antifilosófico — no sentido tradicional de ‘filosófico’. Se, porém, olharmos mais de perto, ver-se-á que, também pelas suas próprias exigências, o Tractatus tampouco segue o método que apregoa: não há nele proposições da ciência natural! Mas isso, de novo, reconhece-se na mesma proposição, pois fazer isso equivaleria a fazer algo “que nada tem a ver com a filosofia”. Assim, parece que estamos forçados a concluir um paradoxo: a filosofia, propriamente, não ensina nada, a não ser isso mesmo: que nada nela pode ser ensinado. Nada, se seguirmos os caminhos traçados pela tradição e pelo próprio Tractatus!
Pareceria, então, que o Tractatus está além do correto e incorreto, do falso e o verdadeiro, se tudo o que nele está escrito não faz sentido. Mas, estranhamente, faz muito sentido. Ou, então, sem fazer sentido, nos permite passar a ver o mundo corretamente. É o que diz a proposição 6.54:
Minhas proposições ilustram por esse meio que aquele que me compreende as reconhece, no final, como carentes de sentido, quando ele através delas — nelas — sobre elas ascende. (Ele deve, por assim dizer, jogar fora a escada, depois de que por ela tenha subido.) Ele deve passar por cima dessas proposições, depois vê o mundo corretamente.
Quem então, compreende o autor, porque compreende o que escreveu, deve reconhecer que todas essas proposições carecem de sentido. Mas é justamente isso que permitirá que se veja o mundo corretamente! O livro de Wittgenstein, segundo suas próprias palavras, resolveu todos os problemas. O Tractatus, isto é, resolveu os problemas que queria resolver. Um deles, mostrar que praticamente tudo na filosofia não passava de um conjunto de proposições carentes de sentido. O que, aliás, vale para o próprio texto. Vejamos o que diz no final do Prefácio:
De outro lado, a verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me inamovível e definitiva. Sou, portanto, da opinião de que os problemas têm sido finalmente resolvidos. E se eu não me engano, então, o valor deste trabalho consiste, em segundo lugar, no fato de que mostra quão pouco tem sido feito com a solução desses problemas.
Em conclusão, Wittgenstein levou a cabo uma das mais radicais leituras dos outros filósofos: a maioria de suas proposições não fazia sentido. Propõe, por outro lado, uma mudança completa no que deve ser entendido por ‘filosofia’. Algo que nada tem a ver com os problemas que os filósofos clássicos tentaram resolver. Wittgenstein, efetivamente, contribuiu para que se abra uma nova área de pesquisas filosóficas, aquela que se enveredou pela lógica e a filosofia analítica da linguagem. Anos depois, Wittgenstein faria dele próprio uma leitura crítica, afastando-se do que tinha defendido na sua primeira obra. Nem definitivos nem inamovíveis, os pensamentos desenvolvidos no Tractatus só fizeram o que sempre foi feito pelos filósofos, fornecer um novo olhar sobre o mundo e sobre a própria filosofia.
*Gonçalo Armijos Palácios
José Gonzalo Armijos Palácios possui graduação e doutorado em Filosofia pela Pontificia Universidad Católica Del Ecuador (1978 e 1982, respectivamente) e doutorado em Filosofia pela Indiana University (1989). Realizaou estudos de pós-doutorado na Indiana University em 1996 e 1997. Desde1992 é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, metafilosofia, filosofia política e ensino de filosofia. Participou do Grupo de Sustentação para a criação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, em 2006, do qual foi seu primeiro coordenador eleito. Foi o fundador do Curso de Pós-Graduação em Filosofia da UFG (1993), da revista Philósophos (1996), do Curso de Graduação em Filosofia da cidade de Goiás da UFG, em 2008, e participou da criação do Campus Cidade de Goiás da UFG em 2009.
publicado originalmente na Coluna Ideias do Jornal Opção