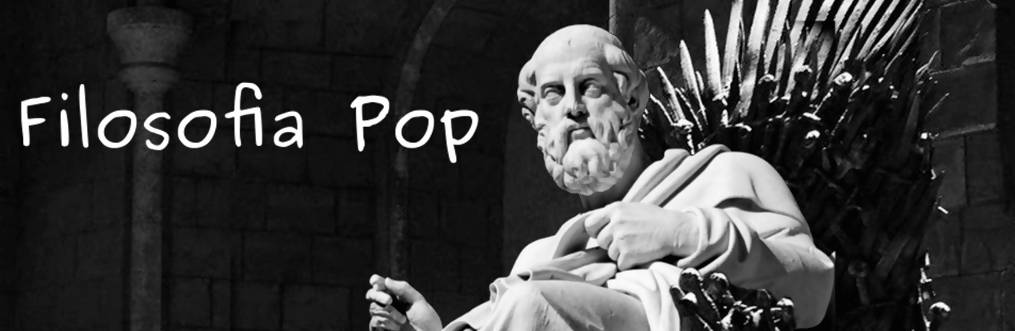Neste momento histórico, a pergunta não é apenas se voltámos à normalidade. A verdadeira pergunta é: teremos a coragem de inventar um novo normal?


Este mês de abril, na cidade de Maputo, a agenda cultural anuncia a apresentação de uma amostra do cinema europeu. O cinema europeu, talvez onde tudo começou -com os irmãos Lumière, em Lyon-, já foi dominante, já foi farol do imaginario ocidental. Durante décadas, cultivou o olhar, a lente da consciência histórica, o sentido trágico e estético da existência. Mas desde que Hollywood se impôs como matriz da indústria e do imaginário global, ele perdeu muito do seu poder simbólico. E, no entanto, o cinema europeu mantém uma força peculiar. Filmes de grande fatura estética e espessura histórica continuam a emergir ou a ressurgir -num gesto quase arqueologico-, muitas vezes graças às plataformas digitais como a Netflix, que os resgatam, reconstroem e reapresentam. É o caso do filme O Gattopardo, de Luchino Visconti, recentemente redescoberto por uma nova geração.
O filme é mais do que um relato historico; é uma meditação sobre a decadência, o tempo, o poder e a morte. É, se quizermos, um tratado político-filosófico encenado com roupagens da época. Baseado no romance homónimo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ele narra um momento de transição crucial na história italiana: o processo de unificação conduzido por Garibaldi no século XIX. No centro da trama, encontramos a figura de um aristocrata siciliano (Dom Tomasi) que, com melancolia lúcida, vê a sua classe a desaparecer. O seu sobrinho (Tancredi), mais adaptável, alia-se à nova burguesia ascendente através do casamento, numa tentativa de manter os privilégios sob novas roupagens. É neste contexto que ele profere a célebre frase: “Tudo deve mudar para que tudo fique na mesma.” Esta frase não é apenas cinica -e profundamente maquiavelica- ela não descreve apenas a Italia do século XIX, mas lança uma sombra hermeneutica sobre o século XX, e, com inquietante precisão, sobre o século XXI
A Sicília é hoje um corpo que carrega as marcas dessa “metamorfose conservadora”. A aristocracia deu lugar a redes mafiosas, as estruturas de poder mantiveram-se, apenas trocando de vestuário. A pobreza, a estagnação económica, a violência endémica são as cicatrizes de uma modernização abortada. A história siciliana revela-nos uma lição: quando a mudança é apenas cosmética, o sofrimento perpetua-se, e a justiça torna-se um espelho côncavo — distorcido, desigual, irónico.
Tudo deve mudar para que tudo fique na mesma, é uma que frase ressoa para além da Sicília e da Itália; é uma fórmula universal da conservação travestida de transformação. Um código de sobrevivência das elites: mudar o invólucro, manter a estrutura. É precisamente neste ponto que o cinema toca a filosofia política – e se torna relevante para Moçambique.
Moçambique viveu, nos últimos seis meses, talvez o momento mais indeterminado da sua história política recente. Após eleições contestadas, tensões urbanas e um vácuo institucional, tudo parece, de repente, encaminhar-se para uma normalização. Mas será esta normalidade um verdadeiro regresso à ordem ou uma recondução da velha ordem sob nova aparência?

A ideia de normalidade tem um efeito anestesiante no discurso público. É evocada como um ideal neutro, uma restauração do equilíbrio, uma vitória da razão sobre a violência. No entanto, como ensinou Michel Foucault, a normalidade é sempre uma construção do poder – é a forma como o poder define o que é aceitável, visível, legítimo. Retornar à normalidade significa, muitas vezes, reintegrar-se na matriz hegemónica que foi momentaneamente perturbada.
Num contexto pós-conflito, como o moçambicano, o perigo é precisamente este: confundir a suspensão da violência visível com a justiça; tomar o silêncio das ruas como consentimento; confundir estabilidade com legitimidade. O normal, aqui, pode significar apenas o retorno à dominação antiga. Pode significar o reforço das práticas de exclusão, de corrupção, de opressão simbólica e real que foram brevemente interrompidas pelas manifestações populares.
A verdadeira normalidade não é retorno, é invenção. Só é legítima uma normalidade que resulte de uma reconfiguração profunda das condições de vida, da justiça distributiva, da ética pública. Nesse sentido, a paz sem justiça é apenas a continuidade do conflito por outros meios – invisibilizados, interiorizados, negados.
Neste ponto Maquiavel se torna um interlocutor essencial. Muito antes da invenção do conceito moderno de “opinião pública”, ele introduziu, nos seus Discursos sobre Tito Lívio, a figura do povo como sujeito político. Contra a tradição aristocrática, que vê no povo uma massa ignorante e perigosa, Maquiavel reconhece-lhe uma sabedoria política espontânea. O povo não quer dominar -quer não ser dominado. Essa vontade negativa, essa recusa, é já uma força constitutiva da república.

Quando o povo se manifesta – mesmo sem líderes, sem doutrina, sem programa – ele exprime algo profundo: o fracasso da representação, o esgotamento das instituições, a desconexão entre o poder e a vida real. Em Moçambique, as manifestações recentes foram, sem dúvida, marcadas por interesses políticos concorrentes e pela mobilização da opinião pública. Mas houve, também, algo mais radical: a irrupção do povo -enquanto vontade de ruptura, enquanto negatividade ativa.
Maquiavel não idealiza o povo: sabe que ele pode ser volúvel, violento, contraditório. Mas insiste que o conflito entre povo e elite é constitutivo da política. E mais: os regimes mais estáveis foram aqueles que souberam institucionalizar esse conflito – dar-lhe canais, reconhecimento, espaço. Em vez de reprimir o povo ou ignorá-lo, a república deve criar dispositivos que transformem o protesto em diálogo estruturado, a revolta em reinvenção constitucional.
A figura do Gattopardo permanece como uma advertência. Quando as elites sentem os privilégios ameaçados, fingem mudar para que nada mude; trocando o uniforme, mantendo os privilégios. Essa é a lógica da conservação adaptativa – o niilismo estratégico de quem já não acredita em mudança, mas acredita no poder de simular mudança.
Para escapar a esse ciclo, é necessária uma via alternativa. Mas não a terceira via centrista e apaziguadora do neoliberalismo ocidental. Uma verdadeira terceira via moçambicana, que seja ao mesmo tempo crítica e criadora. Crítica da dominação, criadora de novas formas de convivência.
Essa via não nasce de cima, nasce do povo que Maquiavel vislumbrou. E pode inspirar-se na filosofia mocambicana (africana) que -nas suas diferentes formulacoes-, propõe uma concepção relacional da pessoa e da justiça –ninguém é sem os outros-, e a comunidade como critério de validade política.
A terceira via é, pois, um gesto de imaginação política. Entre o cinismo aristocrático e o niilismo revolucionário, ela busca um novo pacto. Um pacto que se funda não sobre a estabilidade, mas sobre a legitimidade. Não sobre o medo, mas sobre o reconhecimento mútuo. E sobretudo, um pacto que saiba escutar -e confiar- na inteligência do povo.
A nossa ambição filosófica, nestes tempos perifrásticos, não é limitarmo-nos à contemplação. Tentamos oferecer conceitos que ajudem a nomear o real, a denunciar os seus enganos e a imaginar outras possibilidades. O Gattopardo ensinou-nos que a mudança aparente pode ser a pior forma de conservação. Maquiavel ensinou-nos que o povo é a condição da liberdade. Moçambique ensina-nos, todos os dias, que o futuro não pode ser uma repetição do passado.
Neste momento histórico, a pergunta não é apenas se voltámos à normalidade. A verdadeira pergunta é: teremos a coragem de inventar um novo normal?