Neste ensaio Severino Ngoenha e Carlos Carvalho refletem sobre “Para onde está indo a filosofia em Moçambique?”
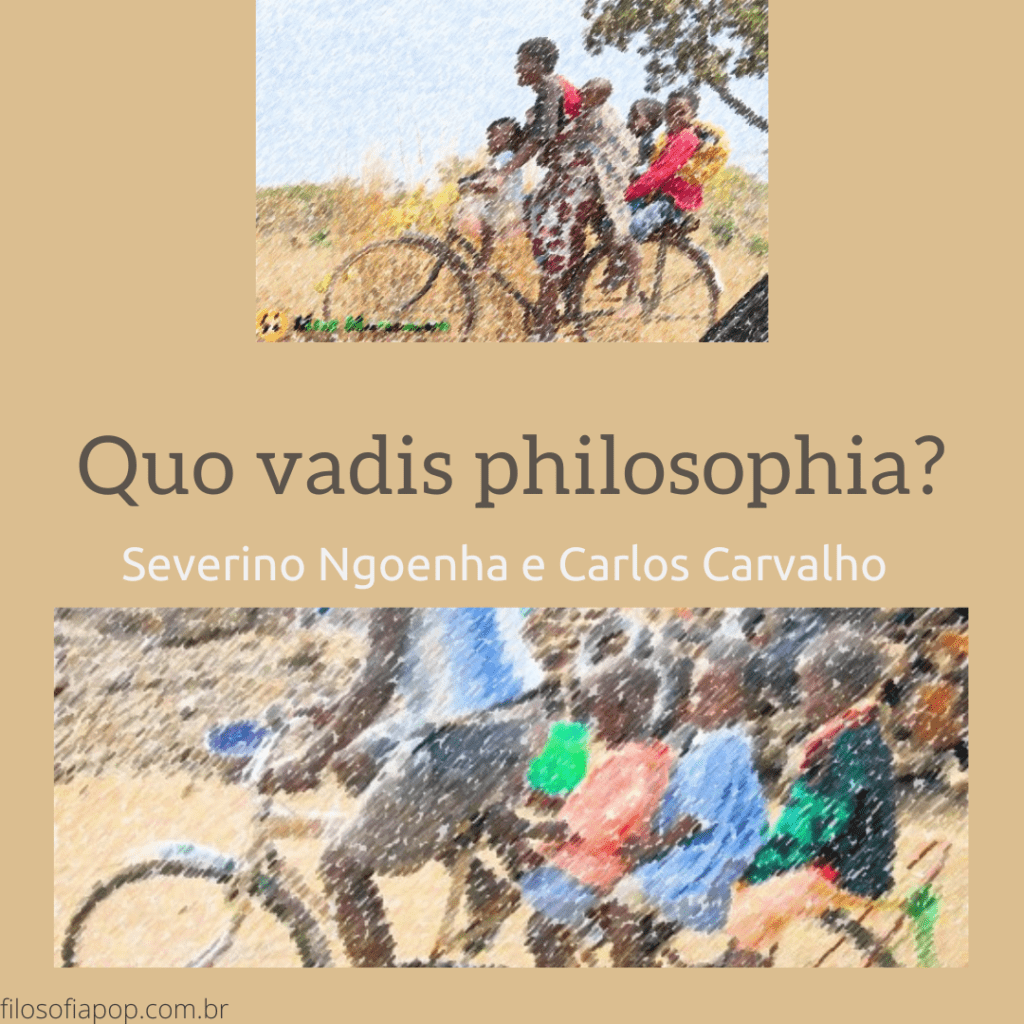
Cancelado o ensino da filosofia colonial cujo objectivo era (com o estudo da história e da literatura ) “formar bons portugueses” ( Inocêncio Galvão Teles, ministro da educação), e depois de um interlúdio do que Kierkegaard chamaria migalhas do marxismo (sem o idealismo alemão, a economia política inglesa ou o socialismo utópico francês), em 1997, e, concomitantemente com a mudança do regime político do país, se impôs à política a necessidade de re-introduzir a/uma filosofia. A questão que se punha à filosofia era, in primis, a identificação das questões, teóricas e práticas que ela (sem renunciar à sua vocação de busca universal da verdade e haurindo fundamentos na sua história de continuidades e rupturas) poderia participar a dar respostas. Com essa démarche fazia-se jus à filosofia como apreensão do próprio tempo através de conceitos (Hegel). Mas o que é ser amigo do próprio tempo (histórico)?
Em Aristóteles, a philia temporis estava intrinsecamente ligada à equivalência ao que supunha uma identificação do sujeito com as suas circunstâncias temporais (Ortega e Gasset). Humanistas e liberais partilhavam uma relação com o tempo histórico como exaltação da “dignitatis humanae vita“, enciclopedistas e iluministas como desencantamento do mundo e universalização por obra da razão; Engels e Marx (como antes deles para os socialistas utópicos) a relação com o tempo impunha-se como dever de transformá-lo.
Agamben (o filósofo do “Homem Sacer” e de “O Estado de Excepção” escreveu num pequeno livro sobre a amizade (O Amigo) como relação inter pessoal – não no sentido do companheirismo dos idealistas alemães, dos existencialistas como Sartre e Simone de Beauvoir ou de Jacques e Raissa Maritain – mas uma amizade com destinação teofánica e teleológica.
O frontispício do livro está ilustrado por uma obra renascentista (Brunelleschi) que retrata as figuras de Pedro e Paulo, onde se percebe um e outro, arrastados por soldados romanos. Estes eventos se teriam passado, segundo a tradição, no que são hoje as catacumbas de São Sebastião (fora dos muros de Roma) onde teriam sido mortos (o primeiro, Pedro, crucificado com a cabeça virada para baixo e o segundo, Paulo, porque cidadão romano, só decapitado) e sepultadas essas duas figuras maiores do cristianismo. Enquanto eram arrastados, manu militari, para a morte eles – é aqui que reside a amizade – indiferentes ao suplício, à morte iminente, e até ignorando os soldados, olham um para o outro de uma maneira profunda e cúmplice – para além das controversas de Antioquia – que prescindia de toda e qualquer palavra; havia um ideal e um projecto comum – que ia bem mais além do que as ideias de um e do outro – que os unia.
Na liturgia cristã, Pedro e Paulo nunca são invocados separadamente. Invocamos São Joaquim, São José, São Cipriano (…) mas nunca separadamente Pedro ou Paulo. É que Pedro e Paulo representam duas dimensões que os padres da igreja – e a patrística – nunca quiseram ou puderam separar. O pescador da Galiléia era um judeu-centrista convicto que defendia que para ser cristão era necessário passar pela particularidade – e até circuncisão – judaica nas suas práticas cultuais, nos seus ritos, nas suas crenças e historicidades .
Paulo, apesar de ter frequentado a escola rabínica e ter sido discípulo de Gamaliel (maior mestre de então), acreditava que a catolicidade (universalidade) do cristianismo dispensava todo e qualquer rito de passagem pelo judaísmo: “ninguém pode ser justificado pela lei” (Galatas 2).
Esta bipolaridade de posições provocou uma controvérsia na igreja primitiva que dividiu os crentes em petrinos e paulinos; entre aqueles que defendiam a centralidade do judaísmo na nova religião e aqueles que pensavam, com e como Paulo, que a nova religião era completamente nova, sem atinencia nem deveres para com o vetero, representado por Pedro.
A tradição litúrgica mas também dogmática da igreja decidiu ligar os dois, não Pedro sem Paulo nem Paulo sem Pedro. O cristianismo é um universalismo mas quem diz o universal é sempre alguém situado no tempo e no espaço. Então ser cristão significa um caminho constante do particular, onde sociologicamente por acidente nascemos (Eduard Tylor), em direção à teleologia soteriológica que só pode ser universal.
Com a conversão de Constatino (século IV), o universal cristão ficou incorporado/fagocitado/condicionado não só pela Ius romana, para também pelo latim, costumes, indumentária, cultura e até arquitetura, que passaram a se confundir com o cristianismo. Apesar de algumas parcas resistências representadas por Matteo Ricci (ritos malabaricos), o universal cristão, caro a Paulo, passou a confundir-se com a particularidade, não semítica e judaica de Pedro, mas romana e ocidental do pós Constantino.
É na esteira deste universalismo etnocentrado que – à saída da Idade Média – se produziu o humanismo da primeira globalização (do globus terrestre e obra de descobridores, geógrafos e aventureiros) que usou a Ius predicanda evangelium como pretexto para a dizimação dos índios e a escravatura dos africanos; que o Iluminismo (a priori, herdeira do mundus pintada com cores agostinianas da teologia da história) fez conviver, alegremente, os direitos humanos com a opressão; que a (falsa) filantropia do século XIX transmutou-se em colonialismo; que a filosofia – de Hegel a Heidegger – arianizou/racializou histórica e epistemologicamente a filosofia e com isso fragmentou a esfera do(s) direito(s).
A globalização de interesses biopoliticos (Foucault) de hoje é sem mundus (valores humanistas e universais), ela é um avatar de um particularismo eugenista no qual nenhum Pedro se reconheceria. É um universalismo pobre, racialista – o que explica a falência dos direitos humanos – que cria e impõem necessidades que as pessoas e povos não podem satisfazer, pela primazia do tudo económico. É o que explica a falência da recente COOP 27 uma vez que a distância e a iredutubilidade entre os povos (já denunciada por Hans Jonas) sem necessidade de soldados romanos e os encontros mundiais, sem valores partilhados e cujos olhares – contrariamente aos olhares de Pedro e Paulo – são choques e contraposição de interesses, de animosidade. Não é só entre Putin e Biden, Oriente e Ocidente, Norte e Sul mas também entre nós e nós: Frelimo/Renamo, norte/sul e pior ainda, elites contra o povo.
O ecuménico – judeu, fundador do cristianismo e profeta no Islão – e intercultural (pluricultural) – nascido no Médio Oriente, refugiado em África e consagrado na Europa – Jesus não se reconheceria nos nossos (falsos) universalismos nem nos nossos (xenófobos) particularismos, nas nossas civilizações maniqueistas do nós /contra os outros ( Todorov). O programa politico de Cristo (cf. Sermão da Montanha e as Bem-Aventuranças) compreendia o desafio a termos um olhar de simpatia e empatia para com todo o outro, o que ele chamou Ágape/caridade e que os revolucionários franceses laicizaram com o termo “fraternidade” e os camaradas socialistas com “solidariedade”.
Ainda decorria o falimentar COOP 27 e já entrava em cena a démesure (desmedida – mania da grandeza) do Katar que, acrescentando ao escândalo dos salários de futebolistas e dos pecuniocratas da FIFA – num mundo de milhões de desnutridos – acrescentava no seu portefólio o anti-ecologismo, mas também a celebração do fausto e os pontapés nos direitos: com a mundialização institucionalizada da corrupção e do poder do dinheiro, a exploração e o desprezo pelos trabalhadores (mortos às centenas na construção dos estádios), a discriminação das mulheres e das orientações sexuais diferentes, mas também da falência do espírito desportivo (olímpico), caro aos filósofos gregos e re-actualizado por Coubertin, do qual o mundial de futebol é ou deveria ser um avatar.
O problema não é o futebol: o antigo secretário geral das Nações Unidas Kofi Annan, via no futebol o último espaço do espírito democrático e lamentava que ele não se transpusesse para a política e para a economia. Segundo ele, no futebol todos têm uma opinião, uma ideia de quem devia jogar, como devia jogar, em que lugar deveria jogar. Todos são adeptos mas também potenciais treinadores. Annan queria que este interesse e espírito participativo estivesse presente na política, no debate democrático. Este espírito deveria também estar na esfera dos direitos e do interesse comum pelo mundo.
As catacumbas de São Sebastião, para além de serem o lugar mítico do encontro e morte de Pedro e Paulo, tem na entrada o famoso scriptum “quo vadis domine” que a tradição empresta ao fugitivo Pedro – o ‘perseguidor’ Paulo teria sido interpelado na estrada de Damasco.
A vinte cinco anos do seu renascimento, a filosofia tem hoje um duplo desafio; interrogar o quo vadis do país e o quo vadis da filosofia. Um país sem communia de bens materiais nem valores imateriais partilhados, (o que exacerba as discrepâncias sociais entre classes sociais, raças, regiões) e cria intolerância; uma democracia que ignora a vontade do demos e caminha arrastando-se em direção a uma autocracia; com uma educação (incluindo o ensino superior) que prescinde do saber e do conhecimento a favor de procedimentos de (falsa) qualidade e de diplomas. A estas problemáticas que serviram de substrato e quadro teórico da filosofia moçambicana há um quarto de século, vieram se juntar a necessidade de uma reflexão sobre a laicidade e a tolerância, os dilemas do meio ambiente (entre sermos o país mais vulnerável às mudanças climáticas e termos entrado no clube dos países exportadores do gás); em sermos um país que, darwinianamente, está em queda livre na sua dimensão de Estado e na sua humanidade (muitas crianças vivem e crescem num estádio/nível de vida mais próximo de animais que de homens), sem fôlego para acompanhar a pedalada pós e trans, da humanidade em devir.
Uma filosofia que se preze, que valha que lhe consagremos um minuto do nosso tempo (para parafrasear Pascal), não pode ignorar as exigências da gnose e da epistemé (Mudimbé) nem limitar as suas elucubrações ad usum academicorum. Para ser de facto amiga do seu tempo, a filosofia moçambicana deve implicar-se nas vicissitudes do País e fazer de Moçambique um espaço epistémico a partir do qual pensar o Mundo; ela deve ousar assumir criticamente e para além das conveniências, os desafios existenciais e aporéticos do nossa tempo; o que significa militar e ser catalizador para tirar Moçambique da sua estagnação e retrocesso e pô-lo a pedalar ao ritmo dos tempos do mundo.
Na província da Zambézia (por exemplo) o meio de transporte mais comum – para os mais afortunados – é a bicicleta, no momento mesmo em que em outras latitudes, as viagens para o espaço se multiplicam; a distância que nos separa do mundo dos outros vai da bicicleta as naves espaciais. Se não queremos perder contacto com a humanidade em transformação (seleção tecnológica e não natural) por via de biotecnologias, robôs, inteligência artificial (…) temos que pedalar;
Pedalar, pedalar sempre, pedalar com força, mas, sobretudo, pedalar juntos…
ensaio de Severino Ngoenha e Carlos Carvalho
Para mais textos e contribuições do autor siga a tag “Severino Ngoenha”: https://filosofiapop.com.br/tag/severino-ngoenha/

Boa reflexão. Pena que, o autor faça parte do Governo que tanto odeia a continuidade da Filosofia em Moçambique. Mas de qualquer jeito, forças Ngoenha. Ademais, nunca será desperdício ler também a minha reflexão sobre o futuro da Filosofia em Moçambique, no meu artigo intitulado, “O Futuro da Filosofia em Moçambique: Incerto ou Promissor?” publicado em: http://www.webartigos.com.